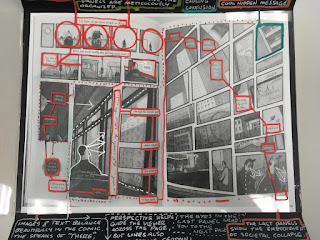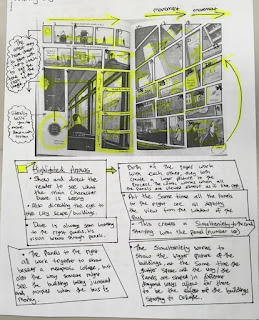A Arte do Estilo,
Bráulio Tavares
Uma vez, numa dessas oficinas literárias que faço de vez em quando, um aluno trouxe um conto bacana. Tinha uma boa idéia de enredo, mas o acabamento ainda era meio hesitante. Comentei isso com ele, e ele concordou.
– Eu acho a idéia melhor do que o estilo – disse ele. – Mas
onde é que a gente vai buscar estilo? Enfeitando as frases?
Essa é uma questão delicada, porque para muitos leitores
“estilo” é sinônimo de efeito. Talvez seja uma influência dos locutores de
futebol da TV. Toda vez que um jogador faz uma posição de corpo meio caprichada
e bate na bola de maneira acintosa, “self-conscious”, meio exibicionista, o
locutor diz que ele “bateu com estilo”.
Neymar é um bom estiloso, neste sentido. Romário também,
e Maradona. Já artilheiros como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não são. Batem
com perfeição, mas na medida exata do necessário, e parte do seu talento talvez
esteja nesta percepção instintiva. Sabem numa fração de segundo a força exata,
a colocação precisa, o mínimo volteio necessário do corpo para botar a bola no
ponto ideal.
É a arte do não exagerar, não caprichar, não estilizar.
“Estilo”, no futebol, é quando o cara quer mostrar 130% de talento num chute.
Transposto para a literatura, estilo (neste sentido, que
vou logo dizendo que é equivocado) é visto como sendo uma beirada
contínua de excesso que o escritor vai espalhando ao longo da frase. Me parece
um erro.
A definição de estilo que eu uso atualmente é: “Maneira
pessoal de escrever onde estão trançadas as qualidades e as limitações de um
autor”. O estilo é o resultado não só do que o cara sabe fazer muito bem, mas
do que ele não consegue fazer direito, e por isso precisa dar uma volta extra
para chegar no mesmo ponto.
Ninguém no mundo tem o mesmo conjunto de qualidades e de
limitações, por isso não existem dois grandes autores com estilos iguais. Só os
medíocres se parecem, porque no gráfico deles tudo tende ao horizontal.
Voltando à Oficina: falei para o aluno que talvez ele
pudesse enriquecer o estilo dele lendo alguns autores. “Quem você lê, quando
quer se inspirar?,” perguntei. Ele respondeu:
– Ultimamente eu tenho lido Edgar Poe, Jorge Luís Borges,
Roberto Bolaño...
Eu maldo que ele só disse isso porque conhecia este blog
e deve saber que eu gosto de todos três. Falei:
– Pois eu vou te passar um dever de casa para os próximos
12 meses. Você vai ler a Antologia
Poética de Vinicius de Morais, a Invenção
de Orfeu de Jorge de Lima, e qualquer livro de Cecília Meireles.
Por que falei isto? Primeiro, porque a prosa dele não
tinha absolutamente nada de Borges, nada de Edgar Allan Poe. O que é uma coisa
ótima, porque são dois autores cujo modo de escrever se entranha de tal forma
na cabeça de um leitor constante (eu que o diga) que acabam causando mais mal
do que bem.
E segundo porque os contos dele eram Roberto Bolaño puro,
no sentido de que a maioria dos textos de Bolaño são textos sem pretensão de
beleza, de “exuberância verbal”. Bolaño, ou pelo menos o Bolaño dos quatro ou
cinco livros que li, escreve com rapidez e limpidez admiráveis. Mas é uma
limpidez conseguida ao longo de décadas. Uma limpeza de quem foi se livrando de
lastro ao longo da escalada e chega ao topo da montanha com um binóculo e uma
mochilinha com propulsores a jato.
Faltava ao jovem contista um pouco de enfrentamento
verbal, e esse enfrentamento verbal ele talvez conseguisse lendo poesia.
Talvez. A gente receita essas coisas mas não pode garantir o resultado. Porque
a prosa de cada autor ressoa de maneira diferente no cérebro de cada leitor.
Resumindo: se você é contista ou romancista, aconselho
que leia mais poesia. Mas não é ler por obrigação, é ler gostando. É ler estudando como os efeitos foram obtidos,
como aquelas palavras foram pensadas, por que aquelas palavras e não outras.
A maior parte dos prosadores acha que se a história for
boa, as frases não precisam ter ritmo, não precisam ter sonoridade balanceada.
Precisam sim, e esta é a parte mais difícil. Idéia boa todo mundo tem. Todo
coquetel que eu vou alguém me chega com uma idéia boa para um conto. Mas, e as
palavras, autoridade? Que palavras você vai escolher pra passar essa boa idéia
adiante?
Reversamente, quando um poeta me pede recomendações de
leitura, eu sugiro que leia um romance clássico, leia um Jorge Amado, um
Balzac, um Somerset Maugham. Por que? Porque muitos poetas estão no extremo
oposto do que discuto aqui: têm as palavras, têm o eu lírico, têm a
“melodiosidade”, têm o domínio da cadência, mas falta-lhes assunto, falta vastidão
de sentimento, falta verdade coletiva. Ficam versejando sobre o reflexo do sol
numa nuvem, e a coisa não sai disso.
Numa edição recente do ótimo jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná, Sérgio Sant’Anna, um dos
mestres que minha geração de contistas mais estudou, comenta, a propósito do
constante diálogo de sua ficção com as artes plásticas:
Sempre me interessei por novos processos, e transformar o visual
artístico em palavras me parece o melhor dos mundos. Se eu construir um livro
que tenha como inspiração a própria literatura, vejo um grande risco de
contaminação, até de certo plágio. Você pode se deixar levar demais pelo outro
autor. Inspirando-me nas artes plásticas e no teatro, eu não corro esse perigo.
Porque o que eu farei nunca será o que eles fazem.
Escritores inspirados e desafiados pelas artes plásticas
têm esse misto de liberdade e impossibilidade: criar com palavras algo que lhes
estará vedado para sempre, porque consiste em imagens. E essa impossibilidade
(essa limitação) fará desenvolver seu estilo.
Leia-se uma boa parte da obra de Osman Lins, de Georges
Perec, de Angela Carter, de Julio Cortázar, de Ariano Suassuna, de J. G.
Ballard, de Umberto Eco, de Vladimir Nabokov, de Karen Blixen... São escritores
com imensa fascinação pelo visual, pelo plástico, autores capazes de longas
descrições pictóricas que jamais equivalerão a uma imagem – daí sua riqueza
estilística, como compensação de uma limitação.
Não só a imagem, claro – só para não ampliar ainda mais
essa lista já grande, vamos pensar na influência que a música exerce na prosa
de Cortázar, de Ariano, de Osman Lins.
Trazidas para a prosa, essas influências “estrangeiras”,
a pintura, a música, o teatro, enriquecem a prosa porque a colocam diante de
uma tarefa, basicamente, de tradução. E tradução nunca é igual.
Dois escritores que leiam muito Jorge Luís Borges
escreverão de um jeito parecido. Dois escritores que ouçam muito Mozart (ou
Pixinguinha) podem até achar que estão reproduzindo na sua prosa certos efeitos
formais ou estruturais do que ouvem: mas os resultados serão diferentes. Em
cada um, a síntese pessoal produz um estilo diferente.
Imagens: a 1a foto perdi a referência. a 2a é um cavaleiro cruzando o lago Baikal congelado.